.
por LISE VOGEL
Lise Vogel é uma intelectual feminista norte americana. Socióloga e historiadora da arte, Vogel se define como feminista marxista e é autora de Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary Theory. Seu livro, editado originalmente em 1983 com repercussão modesta, foi reeditado em 2013 em um cenário de revitalização do feminismo e do movimento de mulheres. Nesse contexto, seu trabalho foi considerado por alguns setores como a base da teoria da reprodução social, na busca para encontrar respostas a realidades complexas como a crescente precarização do trabalho, as medidas de austeridade que golpeiam mais forte as mulheres, con ansias de encontrar respuestas a realidades complejas como la creciente precarización obrigando-as em muitos casos, a multiplicar suas horas de trabalho não remunerado nos lares.
Nesse texto, Vogel convida a uma reflexão sobre a interseccionalidade, o mantra (em suas próprias palavras) em voga no feminismo, dentro e fora da universidade, em tempos de queda do feminismo neoliberal. Como em outros movimentos que lutam contra a opressão, a fragmentação da classe trabalhadora e as múltiplas divisões, das quais as classes dominantes abraçam e apoiam, se refratam em respostas impotentes como as políticas identitárias e a própria atomização dos movimentos. São a raça, a classe e o gênero fatores equivalentes? De onde surgem os conceitos – que hoje parecem intocáveis – da diversidade e da interseccionalidade? São discutíveis?
Lise Vogel, não sem aspectos polêmicos, ensaia nesse artigo – publicado na revista Science & Society Vol. 82, No. 2, abril 2018 – algumas respostas, rastros históricos e conclusões. Mais que uma adesão ou rechaço monolíticos, Vogel nos convida a fazer perguntas necessárias a um dos movimentos sociais mais dinâmicos dos últimos anos que, como outros, está atravessado por discussões políticas e debates estratégicos.
*************
Neste trabalho eu examino a genealogia da “interseccionalidade”. Mais especificamente, eu analiso a história da conceituação de “diversidade” como parte da interação de múltiplas “diferentes categorias sociais”, por exemplo, raça, classe, gênero, etc. [1] “Interseccionalidade” acaba sendo apenas um de inúmeros conceitos atraentes, mas ainda assim falhos, implantados nos últimos 80 anos para representar tal heterogeneidade social. Eu concluo com algumas sugestões para desenvolver uma abordagem mais adequada para conceituar “diversidade”.
A explicação padrão
Estudiosos do feminismo negro criaram a noção de “interseccionalidade” no final dos anos 80. Então, essa se tornou uma forma dominante de conceitualizar “diversidade” dentro e fora da academia. Aqui, vemos na Wikipedia, uma discussão introdutória típica:
Interseccionalidade (ou teoria interseccional) é um termo cunhado em 1989 pela defensora dos direitos civis e líder acadêmica da teoria crítica sobre a raça, Kimberlé Williams Crenshaw. É o estudo sobre a sobreposição ou intersecção de identidades sociais e sistemas de opressão, dominação, ou discriminação que estejam relacionados. Interseccionalidade é a ideia de que múltiplas identidades se cruzam para criar um um todo que é diferente das identidades dos componentes. Essas identidades que podem se cruzar incluem gênero, raça, classe social, etnia, orientação sexual, religião, idade, deficiência física ou mental, doença física ou mental, bem como outras formas de identidade. Esses aspectos de identidade não são “entidades unitárias e mutuamente exclusivas, mas sim (…) fenômenos que se constroem reciprocamente”. A teoria propõe que pensemos cada elemento ou característica de uma pessoa como algo profundamente ligado com todos os outros elementos para poder entender completamente a identidade de alguém.
Essa estrutura pode ser usada para entender como as injustiças sistêmicas e a desigualdade social ocorrem em uma base multidimensional. A interseccionalidade sustenta que as conceituações clássicas de opressão na sociedade – como racismo, machismo, capacitismo, homofobia, transfobia, xenofobia, preconceito baseado na crença e opressão de classe – não atuam independentemente uns dos outros. Pelo contrário, essas formas de opressão se interrelacionam, criando um sistema de opressão que reflete a “intersecção” das múltiplas formas de discriminação. (“Interseccionalidade” 2017, acessado em 4 de março de 2017)
Assim, a estrutura interseccional é considerada capaz de lidar tanto com a identidade pessoal quanto comquestões estruturais de privilégio, opressão e justiça.
A invenção do conceito de interseccionalidade ocorreu no contexto da expansão massiva do novo campo acadêmico, de estudo sobre as mulheres. [2] Ao longo do caminho, um conto um tanto mitológico do desenvolvimento da segunda onda do feminismo tornou-se padrão. De acordo com esse relato, a segunda onda do feminismo surgiu nos anos 60 e 70 como um fenômeno monolítico da classe-média branca, ignorando raça e classe. Apenas nos anos 80, e o mito ainda continuava, quando as mulheres negras entraram na academia e desafiaram fortemente o feminismo branco dominante, é que as coisas começaram a mudar. Estudiosas afro-americanas de feminismo — por exemplo, Kimberlé Crenshaw, Patricia Hill Collins, bell hooks, e muitas outras — lideraram essa introdução sobre raça na análise feminista. Em alguns casos eles abordaram classe também. Sua forte liderança sob a bandeira da “interseccionalidade” foi finalmente capaz de romper com os erros do chamado feminismo branco.
Nos anos 80 e depois, esse relato cronologicamente confuso se tornou hegemônico entres as feministas brancas e negras, mesmo aquelas que deveriam saber que a história é outra. Mas é profundamente problemático. Primeiro, simplifica a história da evolução muito complexa da segunda onda do feminismo, que se desenvolveu em múltiplas vertentes e não inteiramente de dentro das universidades. De fato, e como é discutido mais abaixo, feministas socialistas – e marxistas [3] – sempre prestaram atenção na questão de classe; não poderia ser diferente! E raça geralmente tem um papel em suas análises.
Há também um ponto metodológico aqui: a história é sempre complexa e cheia de camadas, e nós devemos ter cuidado para não contar a história por um único ponto de vista. Um relato pode ser hegemonico sem silenciar inteiramente vozes alternativas. Da mesma forma, um relato que é hegemônico em um momento pode perder sua posição dominante em outro. Esse último caso foi o que aconteceu, acredito eu, às análises do feminismo socialista nas décadas que antecederam o auge do interseccionalismo.
Outro problema com o relato padrão é que ele pode nos cegar para evidências históricas que contradizem esse relato. Em outras palavras, funciona como um paradigma kuhniano, ameaçando fazer invisível qualquer dado que não se encaixe no relato padrão. Eu chamo isso de paradigma do “feminismo branco”. Como todos os paradigmas, esse tem alguma validade, mas no geral, distorce a história, levando a sérios resultados.
O Registro Histórico
Então, o que realmente aconteceu? E por que é importante que nós corrijamos o registro histórico? [4] Para responder a essas perguntas, nós temos que voltar para bem antes dos anos 80, para os anos 60 e ainda antes disso. Nos anos 60 e 70, análises e ativistas feministas-socialistas foram forças importantes dentro do movimento de mulheres emergente. Muitas socialistas feministas argumentaram que três sistemas (ou dimensões, ou diferenças, como queiram chamar) – raça, classe e gênero – interagem na vida das pessoas, estejam elas cientes disso ou não. Geralmente, considerava-se que esses sistemas interagiam simultaneamente e complexamente entrelaçado numa matriz de privilégio e dominação.
Houve também a implicação de que a raça, classe e gênero são, de alguma forma, fenômenos comparáveis, e de igual peso e importância. Ao admitir que as várias estruturas das dimensões de raça/classe/gênero são comparáveis, e até mesmo equivalentes, feministas-socialistas fizeram uma declaração política muito importante naquele momento: que nenhum elemento da trilogia poderia ser colocado como prioridade. Assim, o pensamento de raça/classe/gênero entre as feministas-socialistas poderia se distinguir politica e analiticamente do feminismo radical (o qual dizia que se deveria colocar o gênero como prioridade), por um lado, e do socialismo tradicional (que geralmente coloca a classe em primeiro lugar), por outro lado. Em um período de intenso ativismo essa posição política era muito importante. Raça/classe/gênero rapidamente se tornou um mantra, um conjunto de fatores que deve sempre ser atendido e codificado em slogans políticos, jornais, listas de demandas, etc. E a medida que o feminismo se moveu solidamente para dentro da academia, no decorrer da década de 70 e depois, raça/classe/gênero teve que ser expressado em artigos, periódicos, títulos, currículos e livros didáticos. Como uma base para análise, e também uma ação política, raça/classe/gênero – também conhecido como “a trilogia” – pareceu ser novo e poderoso. Em outras palavras, o pensamento em base a raça/classe/gênero não originou das ações de estudiosas sobre o feminismo negro na década de 80. Pelo contrário. Surgiu ao lado dos movimentos sociais e de mulheres dos anos 60 e começo dos 70. De fato, muitas das primeiras ativistas do movimento de liberação das mulheres participaram do movimento pelos direitos civis e de libertação dos negros e de movimentos contra a guerra. Minha própria trajetória pode mostrar um exemplo: em 1964 e 1965, trabalhei com o Comitê Coordenador Estudantil Não-Violento (SNCC na sigla em inglês) no Mississippi; no Norte, eu apoiei o movimento anti-guerra e me juntei, com entusiasmo, ao movimento pela liberação das mulheres, quando esse começou a pegar vôo, no final dos anos 60. Sem surpresas, eu usei o modelo raça/classe/gênero nos meus dois primeiros artigos feministas (Vogel, 1971; 1974).
Com o passar do tempo, a estrutura analítica em base à raça/classe/gênero se expandiu para incluir outros fatores que poderiam cumprir um papel em privilégio e opressão: etnia, sexualidade, geografia, religião, cultura, identidade de gênero, capacidade/incapacidade e assim por diante. De certa forma embaraçosa, a estrutura raça/classe/gênero estava começando a se parecer uma lista de compras. Além disso, quanto mais fatos eram nomeados, mais interações tinham que ser examinadas, gerando sérios problemas de gerenciamento.
Na década de 80, muitos dos movimentos sociais de oposição das décadas anteriores sofreram vários ataques, incluindo repressão violenta. No entanto, o movimento de libertação das mulheres, agora chamado feminismo, sobreviveu e até mesmo cresceu. E as novas gerações de estudantes e acadêmicas que entraram na universidade nos anos 80 e depois incluiu muitas que nunca participaram de movimentos sociais ou pensaram muito sobre o fenômeno de “diversidade”. Isso, na minha opinião, foi o cenário para reescrever a história dos anos 60 – primeiro pela mídia e depois pelas próprias estudiosas feministas. Como deve ser sido mais emocionante definir os pontos de mudança mais significativos da história em sua própria linha do tempo.
Como chegamos do conceito imensamente popular de raça/classe/gênero para o conceito imensamente popular de interseccionalidade? Por que um mantra substitui o outro? Na minha opinião, não foram apenas as intervenções de Crenshaw e outros estudiosos negros, embora eles tenham sido importantes. Foi o contexto no qual eles ocorreram. Algo sobre o contexto deve ter feito interseccionalidade particularmente atrativo e raça/classe/gênero menos atrativo (veja também a nota 1, acima).
Talvez a interseccionalidade, como a “diversidade”, parecesse mais capaz de incluir tudo de uma forma acessível e diferenciada, enquanto preservava a autonomia de sistemas específicos dentro da unidade de interseccionalidade. De maneira diferente, raça/classe/gênero, pra não falar da “lista de compras ”, pode ter parecido muito desajeitado, muito assertivo, na era do pós modernismo e da desconstrução.
Outra característica atrativa de interseccionalidade quando comparada com raça/classe/gênero é que elimina as poderosas palavras raça e classe – junto com sua associação com opressão mas também violência e desordem, e seus gestos implícitos em direção à justiça social e transformação estrutural. Foi muito melhor apagar esse significado naquelas décadas conservadoras. Eu estou me referindo a fontes de financiamento, comitês avaliadores, e assim por diante, bem como jovens acadêmicos buscando encontrar um lugar na universidade.
Origens
Até esse ponto, argumentei que a conceitualização de “diversidade” em termos de uma estrutura de raça/classe/gênero era comum entre a ala esquerda do movimento de libertação das mulheres durante os anos 60 e 70. Mas de onde isso veio? Isso foi inventado, assim como outros conceitos do movimento – por exemplo, “machismo”, “feminicídio” e “Ms” [5]? Ou o movimento pela libertação das mulheres herdou isso?
Eu acho que é muito provável que a conceitualização de raça/classe/gênero, que se tornou popular na década de 60, veio de uma tradição centenária, transmitida pela experiência vivida e ativismo de mulheres afro-americanas. Encontro a evidência para essa hipótese nos trabalhos e escritos de Maria Miller Stewart, Sojourner Truth, Anna Julia Cooper, Mary
Church Terrell, Pauli Murray, e outras. Essas mulheres ativistas – frequentemente citadas pelas escritoras de interseccionalidade como interessantes, mas precursoras desconectadas – poderiam na verdade ter sido as portadoras de uma tradição de feminismo negro vivo que foi mais tarde levada adiante no artigo de Fran Beal, de 1969, sobre o “risco duplo”, na declaração do Coletivo Combahee River, de 1977, no escrito sobre interseccionalidade de Kimberlé Crenshaw , em 1989, etc (Beal, 1970; Combahee River Collective, 1977; Crenshaw, 1989).
Mulheres brancas e negras, ativas no Partido Comunista dos EUA, sem dúvidas tiveram um papel importante nessa transmissão. De acordo com a historiadora Kate Weigand, nos anos 30 e 40, “publicações comunistas regularmente usavam os termos ‘carga tripla’ e ‘opressão tripla’ para descrever a situação da mulher negra” (Weigand, 2001, 99; see also McDuffie,
2011). Outros termos incluíam “exploração tripla” e “trabalho duplo”.
Talvez o principal expoente do pensamento de raça/classe/gênero antes dos anos 60 tenha sido Claudia Jones, uma destacada líder negra do Partido Comunista dos EUA (CPUSA, na sigla em inglês) e do Congresso de Mulheres Americanas [6] (Boyce Davies, 2008, 2011;
Lynn, 2014).
Em minha própria experiência como ativista marxista-feminista e estudiosa na década de 60 [7], a estrutura analítica raça/classe/gênero parecia familiar e imediatamente disponível para mim. Não foi algo que eu precisei pensar profundamente sobre, muito menos inventar. Eu teria escolhido essa estrutura por ter pais de esquerda? Em suma, feministas negras estavam certas por dar crédito a Crenshaw e outras estudiosas negras como líderes no esforço de colocar em primeiro plano a interseccionalidade nos anos 80, mas elas perderam uma oportunidade de enraizar suas contribuições mais profundamente no contexto histórico das vidas das mulheres negras.
As pessoas que não são historiadoras podem perguntar por que é importante conhecer a história correta. Talvez eu possa estar sendo detalhista demais? Eu acho que isso importa, acima de tudo, por causa do que perdemos quando conhecemos a história de forma errada. Como eu já mencionei, nós perdemos muito quando aceitamos o paradigma do “feminismo branco”. Vemos superficialmente a importância de muitas ativistas negras que, por mais de um século, criaram uma tradição de resistência. Nós somos negligentes sobre o papel do Partido Comunista dos EUA e do Congresso de Mulheres Norte Americanas. Damos pouca imporância às contribuições individuais de comunistas e ativistas e escritores de esquerda, seja branco ou negro. Outras histórias também são ofuscadas pelo paradigma do “feminismo branco”. Isso nos leva a esquecer que algumas mulheres brancas que eram ativas nos movimentos de libertação dos negros dos anos 60, também participaram na fundação do movimento de libertação das mulheres. Além disso, a liderança de mulheres negras como Pat Robinson – que, em 1960, formou o grupo de mulheres Mount Vernon/New Rochelle que atraiu um setor de mulheres negras trabalhadoras – desaparece. O paradigma do “feminismo branco” marginaliza ainda mais a importância do ativismo por direitos sociais, o que é uma questão feminista mas também de classe e um movimento que também começa bem antes do auge da segunda onda do feminismo.
Sem o acesso à história completa dos anos 60 e anteriores, nós somos deixados com um relato perturbador, de hostilidade entre acadêmicas feministas negras e brancas, que surge de repente nos anos 80. Nós podemos fazer melhor do que isso.
Modelos e lentes
Finalmente,vou oferecer alguns pensamentos sobre a utilidade de tais conceitos como raça/classe/gênero e interseccionalidade. Eu os vejo, essencialmente, como algo descritivo. Ou seja, eles fornecem uma estrutura conceitual para descrever e investigar “diversidade”, mas por eles mesmos, não explicam nada. Estritamente falando, eles são imprecisos e algumas pessoas poderiam argumentar contra o uso deles.
No entanto, Eu acho que esses conceitos ainda podem ser úteis como primeiras aproximações. Eles oferecem um jeito atrativo, ainda que inadequado, de falar sobre as relações entre múltiplas “dimensões da diferença” como raça, classe e gênero. E para aquelas pessoas novas nesses temas, eles podem funcionar como mecanismos para elevar a consciência. Por exemplo, um projeto do Centro para Vítimas de Tortura de Minnesota discute interseccionalidade como uma forma de “ir além de temas específicos e políticas de identidades”. Especificamente, “interseccionalidade é, ao mesmo tempo, uma lente para ver a opressão no mundo e uma ferramenta para erradicar isso”. O projeto também apresenta estudos de caso de táticas de direitos humanos bem sucedidas, desenvolvidas e implantadas usando sua “caixa de ferramenta estratégica” [8]. Eu não gostaria de ser a pessoa que castigaria esses ativistas por usar um conceito incorreto.
A longo prazo, os esforços das feministas-marxistas para conceitualizar “diversidade” requerem mais do que uma nova metáfora ou palavra-chave (Davis, 2008). Metade de um século depois que feministas-socialistas começaram a pensar sobre essas questões, nós vivemos em um cenário político e teórico alterado. Relativamente poucas feministas hoje poderiam se identificar como feministas-socialistas. Menos ainda se considerariam como feministas-marxistas, além daquelas que têm acesso a um discurso marxista internacional vivo que estava completamente ausente antes.
Eu acho que podemos, nesse ponto, ir além de alguns conceitos anteriores. Eu começaria descartando a suposição que as várias dimensões de diferença – por exemplo, raça, classe e gênero – são comparáveis. Quer queira, quer não, essas comparação leva a um interesse em identificar paralelos e similaridades entre categorias de diferença, e uma minimização de suas particularidades. Igualmente, isso pode sugerir que as várias categorias são iguais em peso causal. Uma vez que descartamos o modelo de comparação, nós podemos romper com o círculo apertado de categorias supostamente semelhantes. Nossa tarefa teórica seria, então, focar nas especificidades de cada dimensão e desenvolver uma compreensão sobre como todas elas se encaixam – ou não se encaixam — uma na outra. Fora desse processo viria a lente, ou talvez inúmeras lentes, com as quais analisaríamos dados empíricos. [9]
Ao pensar em classe, temos um grande corpo bibliográfico, indo de volta ao próprio Marx. Tradicionalmente, essa literatura ignorava questões de gênero e raça, admitindo que classe era a dimensão fundamental. Mais recentemente algum progresso foi feito, reconhecendo o papel da classe sem rejeitar inteiramente outras dimensões. Martha Gimenez (2001; 2018), por exemplo, argumentou longamente que a trilogia deveria ser descartada, desejando substituí-la com um “retorno à classe, reconhecendo a natureza de classe da sociedade norte americana e as relações de opressão que a fragmenta”. Escrevendo de uma perspectiva política-científica, Victor Wallis (2015, 604) explora “a distinção estrutural da dominação de classe, comparada com estruturas de intersecção de opressão moldada por raça, gênero, sexualidade, ou outro critério”. Em outras palavras, está se tornando possível, e até mesmo aceitável, reconhecer classe como chave enquanto se incorpora, ao mesmo tempo, análises de outros fatores.
Para gênero, o ponto de partida seria a “Teoria da Reprodução Social”, uma nova perspectiva que ainda está em processo de desenvolvimento. Meu livro Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary Theory (1983, 2013) [10] foi apelidado de base para a Teoria da Reprodução Social. No que se segue, eu esboço alguns elementos dessa teoria, pelo que eu entendi melhor.
O termo “Reprodução Social” vem de Marx, é claro, mas também da minha discussão de uma “perspectiva de reprodução social” que eu oponho da “perspectiva de sistema duplo” (Vogel, 2013, 133–136, e passim). Diz-se da Teoria da Reprodução Social para oferecer uma perspectiva “unitária” na questão da opressão às mulheres. A palavra “unitária” aparece apenas no subtítulo do livro (Toward a Unitary Theory); é completamente ausente no texto. No entanto, colegas sentem fortemente que “unitário” é uma característica significativa da Teoria da Reprodução Social. Suspeito que eles se apeguem a isso por dois motivos.
Primeiro, isso marca uma rejeição definitiva à teorização dos sistemas duplos que dominou até o pensamento feminista-socialista por muito tempo. E, segundo, isso promete uma solução teórica unificada. Como Tithi Bhattacharya (2013) diz, “O insight mais importante da teoria da reprodução social é que o capitalismo é um sistema unitário que pode, com sucesso, de maneira desigual, integrar a esfera de reprodução e a esfera de produção. Mudanças em uma esfera cria ondulações na outra.”
Ferguson e McNally (2013, xxiii) enfatiza a originalidade do livro em sua leitura de Marx:
Ao invés de enxertar um relato materialista de opressão de gênero na análise marxista do capitalismo – e correr em direção a um ecletismo metodológico que atormenta a teoria de sistemas duplos – Vogel propõe estender e expandir o alcance conceitual das categorias chave d’O Capital, de modo a explicar rigorosamente as raízes da opressão às mulheres… [Ela] investiga ausências teóricas n’O Capital, lugares onde o texto é em grande parte silencioso [e], portanto, leva as inovações conceituais d’O Capital a conclusões lógicas que escaparam ao autor e a gerações de leitores. [11]
O poder da Teoria da Reprodução Social é, eu acredito, que teoriza sobre a vida da mulher trabalhadora dentro do processo de acumulação do capital. Sim, “classe” – ou melhor, o processo de acumulação capitalista – é a chave, mas assim como o capitalismo depende da força de trabalho dos seres humanos, “classe” e “gênero” tem bases materiais e uma ligação íntima um com o outro. Não é assim em relação a “raça”. “Raça” sempre me pareceu o mais problemático dos elementos na tal trilogia. Eu acho que aqui nós precisamos começar usando o contexto da análise de raça nos EUA de Barbara Fields, como ideológico.
A ideologia racial forneceu os meios de explicar escravidão às pessoas cujo terreno era uma república fundada em doutrinas radicais de liberdade e direitos natos, e, mais importante, uma república na qual essas doutrinas pareceram representar com precisão o mundo no qual todos, exceto uma minoria, viviam. Apenas quando a negação de liberdade se tornou uma anomalia aparente até para os que menos se importavam, os membros da sociedade Euro-americana sistematizaram ideologicamente a anomalia… Raça explicou porque algumas pessoas podiam ser negadas daquilo que outros tomavam por certo: a saber, a liberdade, supostamente um auto-evidente dom da natureza divina. (Fields, 1990, 114.)
Dizer que “raça” é uma ideologia não significa dizer que não é real – de fato, poderosamente real, como historiadores vêm demonstrando e como nós nos Estados Unidos temos vivido todos os dias. Essa discussão revela ainda outra forma que a noção de uma trilogia de fatores comparáveis fica aquém. Raça, classe e gênero não são de forma alguma comparáveis ontologicamente. O termo “classe” é um indicador abreviado apontando para o reino da acumulação capitalista, onde força de trabalho é consumida e a mais-valia é produzida. Na medida em que processos biológicos contribuem para a reprodução de força de trabalho, “gênero” cruza com “classe” mas isso não é logicamente necessário. [12] Ambos, “classe” e “gênero” podem ser analisados em abstrato, formando parte do sistema de acumulação capitalista conhecido a nível teórico. Mas “raça” se destaca – mais real e pelo menos tão prejudicial quanto os outros no nosso dia-a-dia, eu acho – do que classe ou gênero.
Tradução: Pammella Teixeira; revisão da tradução: Heitor Carneiro
Bibliografia
• Ahmed, Sara, On Being Included: Racism and Diversity in Institutional Life. Durham, Duke University Press, 2012.
• Beal, Frances M.,“Double Jeopardy: To Be Black and Female” (revisado de un folleto de 1969), en Sisterhood is Powerful, New York, Vintage Books, 1970.
• Benn Michaels, Walter, The Trouble with Diversity: How We Learned to Love Identity and Ignore Inequality. New York, Metropolitan Books, 2006.
• Bhattacharya, Tithi, “What is Social Reproduction Theory?”, https:// socialistworker.org/2013/09/10/what-is-social-reproduction-theory, 2013.
• Bhattacharya, Tithi, “How Not To Skip Class: Social Reproduction of Labor and the Global Working Class”, Viewpoint Magazine, https://www.viewpointmag.com/ 2015/10/31/how-not-to-skip-class-social-reproduction-of-labor-and-the-global-working-class, 2015.
Boyce Davies, Carole. Left of Karl Marx: The Political Life of Black Communist
Claudia Jones, Durham, Duke University Press, 2008.
• Boyce Davies, Carole (ed.), Claudia Jones: Beyond Containment, Banbury, Ayebia Clarke Publishing, 2011.
Cabrera, Nolan, “Review of The Trouble with Diversity, by Walter Benn Michaels”, InterActions: UCLA Journal of Education and Information Studies, 2008.
• Collins, Patricia Hill y Sirma Bilge, Intersectionality, Cambridge, Polity Press, 2016.
• Beverly Guy-Sheftall (ed.), Combahee River Collective (1977), “A Black Feminist Statement”. In Words of Fire, An Anthology of African-American Feminist Thought, New York, The New Press, 1995.
• Crenshaw, Kimberlé, “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Discrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Practice”, University of Chicago Legal Forum, 1989, pp. 139–167.
• Davis, Kathy, “Intersectionality as Buzzword: A Sociology of Science Perspective on What Makes a Feminist Theory Successful”, Feminist Theory, 2008, pp. 67–85.
• Evans, Sara, “Women’s Liberation: Seeing the Revolution Clearly”, Feminist Studies, 2015, pp. 138–149.
• Ferguson, Susan, and David McNally. 2013. “Capital, Labour-Power, and Gender Relations” (ver en castellano “Capital, fuerza de trabajo y relaciones de género”, en https://marxismocritico.com/2017/01/16/capital-fuerza-de-trabajo-y-relaciones-de-genero/, 16/01/2017.
• Fields, Barbara J., “Slavery, Race and Ideology in the United States of America”, New Left Review 181 (mayo-junio), 1990, pp. 95–118.
• Giardina, Carol, Freedom for Women: Forging the Women’s Liberation Movement, 1953-1970, Gainesville, The University Press of Florida, 2010.
• Giménez, Martha, “Marxism and Class, Gender and Race: Rethinking the Trilogy”, Race, Gender & Class, 2001, pp. 22–33.
• Giménez, Martha, “Intersectionality: Marxist Critical Observations”, Science & Society (abril), 2018.
• “Intersectionality”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Intersectionality. Revisado 04/03/2017.
• James, Marlon, “Why I’m Done Talking About Diversity. Or, Why We Should Try an All-White Diversity Panel”, http://lithub.com/marlon-james-why-im-donetalking-about-diversity, 2016.
• Lynn, Denise, “Socialist Feminism and Triple Oppression: Claudia Jones and African American Women in American Communism”, Journal for the Study of Radicalism, (otoño), 2014, pp. 1–20.
• McDuffie, Erik S., Sojourning for Freedom: Black Women, American Communism, and the Making of Black Left Feminism. Durham, Duke University Press, 2011.
• Robinson, Lillian S., Sex, Class, and Culture. Bloomington, Indiana University Press, 1978.
• Taylor, Keeanga-Yamahtta (ed.), How We Get Free: Black Feminism and the Combahee River Collective, Chicago, Haymarket Books, 2017.
• Vogel, Lise, “Modernism and History” (con Lillian Robinson), New Literary History, (otoño), 1971, pp. 177–199.
• Vogel, Lise, “Fine Arts and Feminism: The Awakening Consciousness”, Feminist Studies, 1974, pp. 3-37.
• Vogel, Lise, Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary Theory, New Brunswick, Rutgers University Press, 1983.
• Vogel, Lise, “Telling Tales: Historians of Our Own Lives”, Journal of Women’s History, (invierno), 1991, pp. 89-101.
• Vogel, Lise, “Domestic Labor Revisited”, Science & Society, 2000, pp. 151-170.
• Vogel, Lise, Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary Theory. Edición Revisada, Leiden, Brill/Boston, Haymarket, 1983-2013.
• Wallis, Victor, “Intersectionality’s Binding Agent: The Political Primacy of Class”, New Political Science (diciembre), 2015, pp. 604–619.
• Weigand, Kate, Red Feminism: American Communism and the Making of Women’s Liberation, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2001.
Notas de Roda Pé
[1] Para fins práticos, baseio minha discussão em exemplos e na história dos Estados Unidos. Deixo de lado também problemas complexos referentes à ideologia, ainda que concordo em grande parte com Martha Giménez, que escreve (é uma comunicação particular em 26 de janeiro de 2017): “Creio que uma referẽncia a uma ‘história da conceitualização da diversidade’ foi também concomitante com o processo de tornar a desigualdade, a opressão e a exploração culturais. A noção de diversidade, creio eu, é parte do processo de obscurecer a natureza política das teorias feministas e das teorias de opressão racial e étnica, exclusão e exploração, que reduzem suas demandas e objetivos à integração nas instituições ocupacionais e educacionais. A preocupação pela diversidade esquece o foco nas mudanças entruturais que poderiam beneficiar o grupo e o substitui por mobilidade ascendente para uns poucos” (ver também Benn Michaels, 2006; Fields, 2000, 118; Ahmed, 2012; Cabrera, 2006; James, 2016).
[2] Mais tarde, o uso de “estudos de gênero” será estendido, mas nesse momento se falava de estudo sobre a mulher [N. de T.].
[3] Não é possível separar o feminismo socialista do marxista da maneira que entrou em vigor em 1970. Por isso, uso o termo feminismo socialista de forma inclusiva, seguindo o uso contemporãneo desse termo nos Estados Unidos. Desde o fim dos anos 60 até meados dos anos 70, o temro “libertação das mulheres” era comum, e tentava separar as alas mais jovens e, presumivelmente, mais radical do movimento de mulheres do chamado feminismo burguês da National Organization of Women (Organização Nacionas das Mulheres, NOW na sigla em inglês, N. de T.). Dentro do movimento pela libertação das mulheres, as feministas socialistas formavam uma tendencia distinta. No final dos anos 70, o termo “libertação das mulheres”, com sua conotação de uma transformação radical para além da igualdade de direitos, seria substituído pelo termo feminismo. O feminismo era agora um termo mais amplo do que havia sido antes, talvez refletindo a menos importância em se distinguir as vertentes dentro do movimento de mulheres.
[4] Eu tentei corrigir o registro histórico pela primeira vez em um aritgo publicado há 25 anos no Journal of Women’s History (Vogel, 1991). Como aqui, eu desafiava a história de origem mítica e questionava por que se tornou ideologicamente dominante, inclusive entre as feministas progressistas. Em vão. Apenas recentemente, existem estudos e análises com uma explicação mais precisa dos desenvolvimentos nos anos 60 e 70. Ver especialmente Evans, 2015; Giardina, 2010; Collins e Bilge, 2016, capítulo 3; e Taylor, 2017.
[5] Em inglês, a sigla Ms. é utilizada para nomear uma mulher solteira, as feministas utilizavam essa sigla mesmo que casadas, dando a entender que o que importa é quem elas são, evitando seu estado civil. Em português seria algo como senhora e senhorita [N. de T.].
[6] Congress of American Women em inglês, foi uma organização norte americana pelos direitos das mulheres. Fundada em 1946, teve uma vida curta (foi dissolvida em 1950) por estar associada à União Soviética durante os anos de marcathismo nos Estados Unidos. Uma de suas principais dirigentes foi Elinor S. Gimbel [N. de T.].
[7] Lilian Robinson (1978) fornece um relato vivo de como era ser parte da atividade acadêmica e participar no movimento de libertação das mulheres que surgiu nos anos 60 e 70.
[8] https://www.newtactics.org/intersectional-human-rights-organizing-strategy-building-inclusive-and-transformational-movements.
[9] Para a metáfora da teoria de uma lente, ver Vogel, 2000; reimpresso em Vogel, 2013, 183-198. Para minhas visões sobre a teoria como necessariamente abstrata e separada da investigação prática, ver ibid, especialmente, 184-195.
[10] No momento de sua primeira publicação em 1983, Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary Theory recebeu pouca atenção. (Ferguson y McNally [2013] colocaram a má recepção do livro em contexto histórico). Trinta anos depois, em 2013, Brill y Haymarket reimprimiu o livro em uma nova edição que inclui dois textos adicionais. Um é uma excelente introdução de Susan Ferguson e David McNally, “Capital, Labour-Power, and Gender Relations”, com a intenção de tornar alguns de meus argumentos mais acessíveis. Republicado desta forma, Marxism and the Oppression of Women: Toward a Unitary Theory vem gerando muito interesse, não apenas em seu papel de estabelecer uma base para a Teoria da Reprodução Social.
[11] “Capital, força de trabalho e relações de gênero”: Susan Ferguson, David McNally, Tradução de Isabel Benítez Romero para Marxismo Crítico, disponível em espanhol em https://marxismocritico.com/2017/01/16/capital-fuerza-de-trabajo-y-relaciones-de-genero/.
[12] Para um exemplo de como a reprodução da força de trabalho não necessariamente requer processos biológicos, ver Vogel, 2013, capítulos 10 e 11.




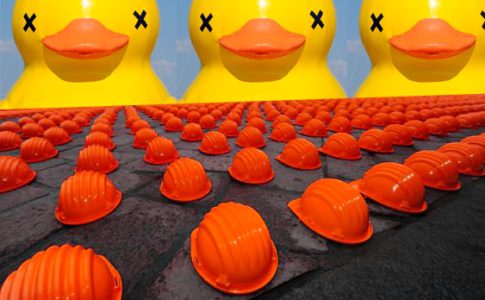
No comments